Interessado em ganhar a nomeação do rei José I para fazer o controle das riquezas achadas no solo do futuro Paraná, Ângelo Pedroso declarou em 1753 às autoridades portuguesas ter descoberto minerais preciosos na região. Logo depois chega ali, aparentemente por acaso, um foragido da Justiça: o mineiro Francisco Martins Lustosa.
RECEBA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS PELO WHATS. ENTRE NO GRUPO.
Riqueza, crime e conflito andavam sempre juntos no remoto e despovoado interior na metade do século XVIII. Em plena corrida pelos diamantes, as preciosidades ficavam com quem chegasse antes, com a obrigação de entregar parte da coleta ao reino português.
Foi o rei João III (1502–1557) quem criou a regra tributária de que era imposto devido à Coroa um quinto de toda a produção de metais e pedras preciosas introduzida no mercado.
Envolvido em feroz luta entre mineiros e paulistas pela posse e controle das riquezas minerais, o português Francisco Lustosa foi acusado de cometer um crime nas Minas de Sapucaí, no Sudeste mineiro, das quais era o administrador.
Fugindo para o Sul, Lustosa se viu perseguido por uma bandeira punitiva da Câmara de Curitiba e se refugiou no sertão do futuro Paraná. Especialista em minas, esbarrou com os diamantes descobertos por Ângelo Pedroso.
O sumiço dos diamantes
Sabendo que a descoberta de minas assegurava benesses junto ao rei português, de seu esconderijo na região diamantífera mandou a notícia de que descobriu jazidas e requeria as vantagens prometidas a quem encontrasse minas.
Criava um problema para Pedroso, que pretendia ser o administrador das minas da região. Lustosa, de seu refúgio no Tibagi, declarava-se descobridor da lavra de Pedra Branca, e apesar de sua condição de fugitivo, era conhecido por sua capacidade de descobrir e administrar minas.
Perseguido pelos mineiros, mas ligado às autoridades paulistas, Lustosa pedia que um filho fosse nomeado “escrivão das minas”, que significava ter o controle sobre a exploração de ouro e pedras preciosas.
O naturalista Saint-Hillaire reportou que o diamante era retirado de contrabando, feito “não só por alguns habitantes do lugar como também por garimpeiros que vinham de fora e até mesmo da capitania de Minas Gerais” (Jefferson de Lima Picanço e Maria José Mesquita, O Sertão do Tibagi, os diamantes e o mapa de Angelo Pedroso Leme [1755]).
Financiou fazendas
Falava-se em abundância de diamantes, mas só uma pequena parte chegava de fato a Portugal, sempre em crise e agora tendo à frente a tarefa de reconstruir Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755.
À medida que a cobrança se intensificava, crescia a ocultação, o desvio e o contrabando, fazendo também aumentar a fiscalização e o policiamento por parte de Portugal.
O ouvidor de Paranaguá*, Antônio Melo Porto Carreiro, enviou ao Tibagi uma bandeira de 200 soldados para controlar a ação dos posseiros e garantir o aproveitamento dos recursos minerais da região.
Encaminhada pela Câmara de Curitiba, a guarda se instalou no Registro de Nossa Senhora do Carmo, na foz do Rio Capivari, para vigiar os garimpos de diamantes. Ali foi instalado um forte militar e montes de diamantes foram efetivamente encontrados.
Uma parte foi para Lisboa, outra fez a riqueza dos futuros criadores de gado e Antônio Porto Carreiro foi chamado a dar explicações para a diferença de volume entre o grande tesouro que se supunha encontrado e a pequena quantia de fato remetida a Portugal.
Denunciado pelos interesses que contrariou, Porto Carreiro foi preso em 1757, acusado de dar sumiço nos diamantes paranaenses.
*Cargo equivalente ao atual governador do Estado
As três tarefas
A grande prioridade portuguesa era fazer a colônia render o máximo para fortalecer o reino. Nesses meados do século XVIII foram definidas com ênfase as três tarefas que deveriam ser cumpridas na Capitania de São Paulo, que abrangia também o atual Paraná.
Para o governador Luís Botelho Mourão, as ações necessárias seriam “primeiro, defender as fronteiras; segundo, povoá-la para que possa defender-se a si mesma e, terceiro, tornar lucrativo o uso das minas e dos benefícios que venham a ser descobertos neste vasto continente”.
Celebrado o entendimento com a Espanha em torno da entrega da Colônia do Sacramento, o esforço português estava agora direcionado a apoiar as demarcações, iniciadas em 1759, que definiriam as fronteiras entre as regiões do Oeste do Paraná e os domínios espanhóis.
As comissões mistas de demarcação iniciaram os trabalhos, mas progrediam lentamente, enfrentando a resistência indígena e as dificuldades de acesso.
De volta às hostilidades
Não havia mapas para facilitar os trabalhos. As plantas existentes eram conflitantes e crescia o descontentamento nos dois lados do colonialismo ibérico.
A morte do rei espanhol Fernando VI, em agosto de 1759, com a posterior ascensão de Carlos III, contrário ao tratado de 1750 com Portugal, veio causar uma enorme reviravolta na região. O desenvolvimento dessas tensões levou à quebra do acordo anterior.
Com a entrega de Sacramento em troca dos territórios espanhóis a Oeste da linha do Tratado de Tordesilhas, os tropeiros desbravaram no centro do Paraná, para além dos Campos Gerais, um território extremamente propício para a criação, descanso e engorda de animais: Guarapuava.
Os índios toleravam a presença dos portugueses, que ainda eram poucos, mas a tolerância acabou a partir de 1760, quando os tropeiros já se espalham pelos Korumbang-Rê, denominação dos Campos de Guarapuava na língua Caingangue.
Criar gado ou lutar na mata oestina?
As primeiras expedições que tentam conquistar a região fracassam frente à resistência indígena. O capitão de cavalos dos Campos Gerais, Francisco Carneiro Lobo, supôs que os ataques dos índios se deviam à atração exercida sobre eles pelas ferramentas portadas pelos tropeiros.
Não supôs que os ataques fossem um revide aos contínuos massacres sofridos pelas tribos indígenas, “a exemplo do que ocorreu com os Carijós, no litoral de Paranaguá, após longo período em que se constituíram objeto constante das ávidas bandeiras escravagistas” (Do Ouro à Soja, Secretaria do Planejamento do Paraná, 1976).
O Oeste paranaense mais uma vez vivia uma situação incerta. Ocupá-la era uma necessidade, por conta do princípio internacional que assegurava o direito de posse por ocupação e moradia efetiva.
Mas se havia ainda os Campos de Guarapuava inteiros a aproveitar, com a perspectiva de criação de muito gado, que interesse havia em se meter na mata para caçar encrencas com índios aguerridos e espanhóis armados?
CLIQUE AQUI e veja episódios anteriores sobre A Grande História do Oeste, narrados pelo jornalista e historiador Alceu Sperança.
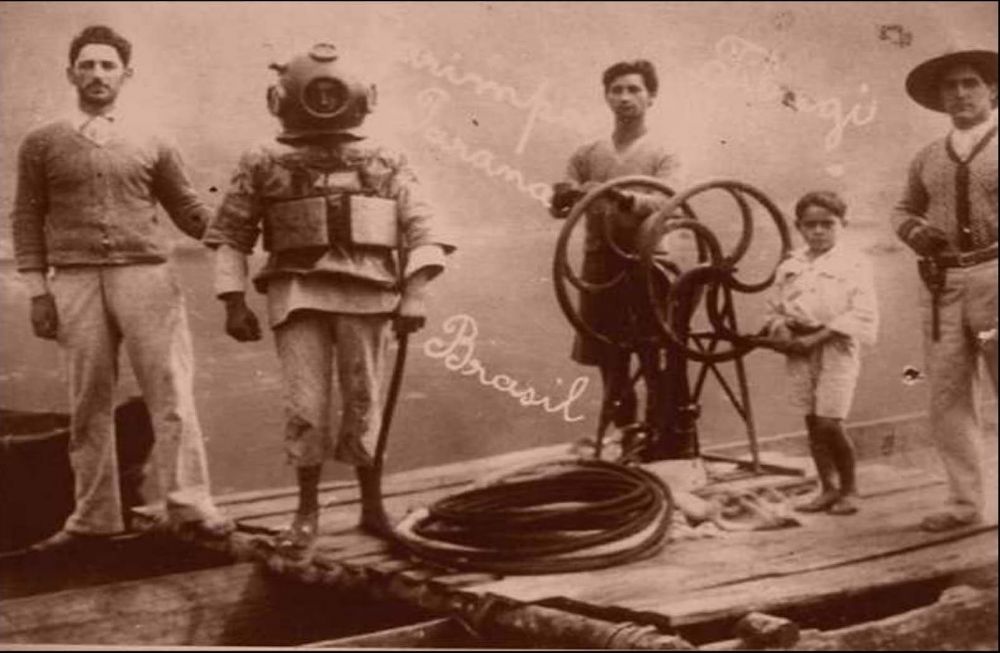
Fonte: Fonte não encontrada

Deixe um comentário