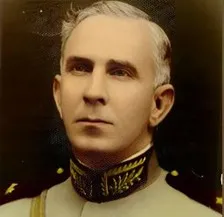Povoação formada a partir de 1889, Foz do Iguaçu sepultava seus mortos em qualquer lugar junto à vila. Com a organização da vida religiosa, no início do século XX, os corpos eram enterrados em um lugar consagrado, ainda no espaço urbano, até que a Prefeitura foi criada e o primeiro prefeito, Jorge Schimmelpfeng, em novembro de 1915, pela necessidade da expansão urbana, determinou um local fora da cidade para os enterros.
Desde 1922, quando a primeira família chegou para viver em terras que hoje compõem a cidade de Cascavel, os mortos era enterrados em lugares aleatórios. Depois, com a formação da vila, em março de 1930, próximo a um banhado existente nas proximidades baixas da Encruzilhada do Gomes, esta assinalada pelo Marco Zero da atual Praça Getúlio Vargas.
Ficava entre as ruas Castro Alves, Marechal Cândido Rondon, Paraná e Rio Grande do Sul, que ainda não existiam quando o campo santo passou a ser usado pelos primeiros cascavelenses.
Quando foi criado o Distrito de Cascavel, em 1938, o então cemitério distrital ainda era extenso e as mortes ocorriam raramente. Os doentes eram transferidos para centros nos quais havia tratamento médico e faleciam por lá mesmo.
Não havia violências nem assassinatos, que passam a ser mais frequentes a partir da guerra entre jagunços e posseiros, depois da morte do ex-governador Manoel Ribas, em 1946.
O cemitério distrital recebeu corpos até 1953, quando o prefeito José Neves Formighieri sancionou projeto de lei do vereador Adelino Cattani determinando recursos para o fechamento e a transferência das ossadas para a nova localização, o atual Cemitério Central Dom Mauro, próximo ao atual Centro Esportivo Ciro Nardi, delimitado pelas ruas da Lapa, Alexandre de Gusmão, Cuiabá, Barão do Cerro Azul e sua extensão para a Avenida Carlos Gomes.
Caveiras no quintal
Publicação anterior, “A maldição do cemitério” (https://x.gd/E6u6F) lembra o desconforto causado pelo fim do cemitério distrital. A lenda sobre a “maldição” prosperou desde que o proponente da transferência, Adelino Cattani, foi morto em um inacreditável duelo com seu amigo João Miotto em pleno centro da cidade.
A transferência dos corpos para o novo cemitério foi lenta, mas parecia já resolvida sem mais maldições em 1963, já esgotado o prazo para a transferência dos corpos ao novo cemitério, quando o Departamento Autônomo de Águas e Esgotos da Prefeitura (hoje, Sanepar) começou a abrir valetas para a canalização de água e, na altura da esquina das ruas Visconde de Guarapuava e Rio Grande do Sul, onde ficava o setor Leste do antigo cemitério, foram encontrados crânios e muitos ossos.
Durante os anos seguintes ossos humanos foram esparsamente encontrados no coração de Cascavel, nos arredores de onde se encontrava o cemitério distrital da cidade.
“Aqui em Cascavel tem gente com mansão de uma quadra, que não sabe que está morando em cima de um cemitério”, disse o cabeleireiro Sebastião Miranda, o Bastroco, filho de uma das primeiras famílias de Cascavel. “E fica bem aqui no centro da cidade. Se cavar um pouquinho, vai tirar caveira debaixo da terra”.
Uma necessidade urbana
O velho cemitério distrital se tornou um entrave ao desenvolvimento urbano com a criação do Patrimônio Novo e do Município, em novembro de 1951. O Patrimônio Novo seguia da atual Rua Sete de Setembro em direção ao Leste.
Passou a ser assim chamado para diferenciar a área do Patrimônio Velho, ou seja, o antigo Patrimônio Municipal de Aparecida dos Portos de Cascavel, criado pelo Município de Foz do Iguaçu em 1931 e referendado pelo Estado em 1936.
Por sua vez, o Patrimônio Novo resultou da iniciativa do governo do Estado de transferir ao novo Município, para uso e comercialização da Prefeitura, uma área loteada, piqueteada e com reservas próprias para futuras repartições públicas, jardins e parques, num total de 2.500 lotes (Cascavel, das Origens ao Século XXI, https://x.gd/Br72J).
No projeto de integração dos dois patrimônios, além do estímulo à rápida venda de lotes na área nova da cidade, o vereador Adelino Cattani apresentou a proposta de fechar o velho cemitério e abrir o novo, transformada na lei 20 pelo prefeito José Neves Formighieri em 3 de agosto de 1953.
A lei desapareceu porque a Câmara de Cascavel apagou do acervo municipal em nuvem o teor das leis antigas. Grave erro de apagamento da memória do Município que pode ser corrigido com a criação de um repositório das leis históricas na integra, em homenagem aos legisladores e prefeitos que as idealizaram e sancionaram.
O Museu Histórico Celso Sperança pode adotar o material cancelado, para que não se perca e seja acessível permanentemente à população, estudantes, imprensa e historiadores.
A eliminação das leis originais é uma impropriedade. Funciona como o incêndio criminoso que em 1960 destruiu as leis municipais do período 1953-1960, restando cópias somente das leis e normas municipais anexadas a processos judiciais.
As almas penadas
Ainda em 1953 a Prefeitura deu um prazo para as famílias transferirem os entes queridos mortos para o novo cemitério, mas a maioria dos parentes dos mortos já não morava mais na cidade ou se concentrava na zona rural.
No transcorrer das décadas, desde os anos 1930, o cemitério sem manutenção e exposto às intempéries teve as covas misturadas e as cruzes com indicações sobre as pessoas falecidas esparramadas sem mais condições de apurar as correspondências entre as inscrições e as ossadas.
Com o cemitério distrital em desmonte e o novo já construído, deu-se que a população da cidade, na época, era majoritariamente saudável.
Ninguém morria para a inauguração efetiva do novo cemitério. Ao mesmo tempo, os envolvidos com o fim do velho cemitério sofriam sérios problemas pessoais.
Era a “maldição do cemitério”. O vereador que propôs a transferência do velho cemitério por atrapalhar o desenvolvimento urbano, Adelino Cattani, morreu prematuramente, aos 34 anos, com um tiro de revólver.
O prefeito que executou a lei, José Neves Formighieri, foi preso após o golpe de 1964 e nunca mais conseguiu se candidatar. O administrador da transferência, Mário Thomasi, teve que abandonar a cidade para também não ser preso.
As histórias sobre o velho cemitério deram origem a suposições baseadas no medo irracional e crendices. Pirilampos que se deslocavam em grupo à noite pela área do antigo campo santo eram descritos como almas penadas se manifestando.
Logo a vida seguiu, as mortes foram acontecendo, povoou-se o novo cemitério e se apagou a lenda da “maldição”. Mas há duas décadas, em 2005, ocorria o inverso: não havia mais espaço legal na cidade para enterrar os mortos.
Mortos nas ruas
Os burocratas municipais foram forçados a reconhecer que ao ritmo das mortes se ampliando a cada mês o espaço para enterrá-los estava no fim. Mesmo com três cemitérios, a persistência das mortes logo iria resultar no esgotamento completo das vagas disponíveis.
Seria deprimente – e inaceitável – que famílias, sobretudo as mais pobres, ficassem sem opções para dar uma digna morada final aos falecidos.
No sucessor do cemitério distrital já não havia mais espaço, a não ser nos jazigos das famílias. A superintendente da Acesc, Fátima Pértile, classificou na época o problema como “gravíssimo”.
Correu pelo mundo a informação de que em Cascavel se enterrava os mortos nas ruas, o que não estava longe da verdade, já que as ruas internas do Cemitério São Luiz, no bairro São Cristóvão, foram usadas para sepultamentos por falta de espaço.
Medidas alternativas foram tomadas, mas o conjunto dos episódios revelou que a verdadeira “maldição” era o rápido desenvolvimento da cidade, que tornava obsoletas as estruturas mais antigas.
No fim das contas, apesar dos apuros dos burocratas e da emoção que naturalmente cerca a morte, a “maldição” era de fato só a parte aparente de um benefício que só requeria melhor planejamento: o progresso da cidade.
100 anos da revolução: Isidoro entrega o comando
A mensagem escrita aos comandados por Isidoro, naquele momento de tanta angústia pelas derrotas, era digna de sua capacidade de comando:Srs. Generais Bernardo Padilha, Miguel Costa, Coronéis Estillac e Prestes.
Vós e as tropas que comandais tendes cumprido, valente e imperterritamente , os vossos deveres cívicos e patrióticos. Os revezes que acabamos de sofrer não vos devem fazer corar e sim encher-vos de orgulho, pois há seis meses que seminus, descalços e sem recursos bélicos suficientes, em número de mil e tantos homens, enfrentais com estoicismo as poderosas forças bernardistas, sendo que o último de vós, com as tropas do sul, fez uma marcha épica, depois de haver rompido o cerco de uns dez mil inimigos, com pouco mais de mil revolucionários.
Assim, os soldados e chefes da Divisão São Paulo e da Coluna Sul-Riograndense bem mereceram a gratidão da República e da Pátria e eu tenho a maior honra e glória de vos haver comandado. Nada mais posso e nem devo exigir de vós, a quem dou completa liberdade de ação, acatando a deliberação que a situação atual vos obrigue a tomar.
Com a maior admiração pelos sacrifícios que abnegadamente fizestes e com a amizade e a gratidão que não posso medir, abraço-vos fraternalmente e assino com o posto que me destes.
a) Marechal Isidoro Dias Lopes
O problema a resolver era de solução muito difícil depois que precipitadamente o comando paulista deu a ordem para a retirada do estratégico porto de Guaíra.
Sem ele, romper o cerco imposto pelas poderosas forças que comprimiam os revoltosos contra a fronteira passava a ser uma tarefa quase impossível.

Fonte: Alceu Sperança